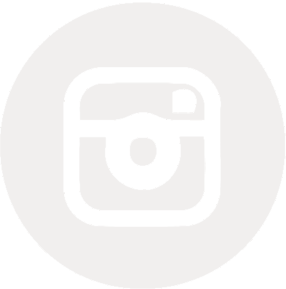Aqui abrimos um parêntesis; e dizemos que ela poderia ter apenas se sentado no banco da praça com o guarda-chuva na mão sem fazer alarde, sem mesmo deixar que o banco soasse, enferrujado, e sem que ela imaginasse os olhares das pessoas atraídos, em reações divididas entre surpresa e deboche, pois preferia que as crianças continuassem brincando, procurando as formigas e alimentando os cisnes, e as mães, obviamente distraídas, lendo revistas ‘de mulher’, perdendo-se entre notícias de celebridades decadentes e receitas de bolo que custam a funcionar, e os homens fazendo cooper, mostrando seus relógios de diâmetros tão grandes quanto a de uma taça de vinho, cujas funções vão muito além da de marcar o tempo, marcar um tempo que não pode ser medido, não pode ser alcançado, nem perdido, relógios que dizem a que horas se deve despertar, por quê, para quê, para quê se procura um sentido para tudo, para sair, para chegar, para chorar e sorrir, preferia que a tivessem ignorado, deixado-a à sua decepção solitária, quando abandonou o guarda-chuva caído ao seu lado, e deixara os pingos pesados da chuva correrem fartos sobre o seu corpo, disfarçando as lágrimas, pois nada poderia ter evitado que fosse perdido o instante que a levara até lá, quando as estrelas se formam nas árvores, com os raios do sol tocando as folhas num determinado momento do dia.
Então fechamos o parêntesis, pois a chuva caía em forte tempestade, e seu desencanto fez suas pernas fraquejarem, enquanto ela perdia a noção do real espaço que o banco da praça ocupava – deixou-se cair na terra batida que o sustentava.
Em dias assim, ela se esquecia que a tempestade poderia, num repente, cessar, e não havia cisnes, formigas, nem crianças que dividissem com ela aquele momento que ela ansiava viver, toda noite, antes de deitar-se.
TS